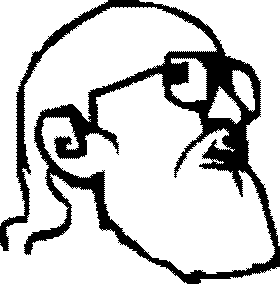Educação para a Diversidade, cultura e identidade neste texto que discorre de maneira clara e objetiva tais conceitos, mesmo que implicitamente.
Nos faz refletir sobre o hoje, o que a sociedade nos apresenta, a busca pela singularidade, recorrente pelos ideais multiculturais em expansão frente ao processo de globalização.
Por Laíse Almeida Teles, todos os créditos desse importante trabalho...
O livro de Stuart Hall intitulado: “A Identidade Cultural na Pós- Modernidade” relata acerca da Identidade Cultural e como esta vem se construindo no contexto histórico até chegarmos ao período que o autor denomina de “Pós-moderno”. Hall defende o argumento de que a modernidade com suas transformações profundas provocaram uma “Crise de Identidade” que fragmentou o homem moderno e descentrou-o, modificando o entendimento do ser humano sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca.
O autor traz ainda momentos históricos que marcam três concepções diferentes de identidade, a saber: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. No iluminismo o homem era centrado, unificado, racional, possuindo uma identidade fixa que emergia por ocasião do seu nascimento e o acompanhava durante sua existência. O sujeito sociológico refletia o mundo moderno em sua complexidade. A construção da identidade do sujeito passa a compreender que esta se dá na interação com o outro, com a cultura de forma que a identidade constitui-se o eixo que interliga o eu interior com o exterior. A partir dos processos sociológicos surge o sujeito pós-moderno cuja identidade é móvel, não permanente, que se constrói no decorrer da história e não é dado de forma inata. O sujeito poderá assumir identidades diferentes em momentos diferentes.
Na modernidade tardia a mudança assume um caráter ainda mais específico conhecido como globalização que produz impacto na identidade cultural dos sujeitos, além disso, a mudança nesse contexto é ainda mais rápida e permanente. Distinguindo-se assim, das sociedades consideradas tradicionais nas quais os símbolos do passado são venerados e perpetuados. Para além das velocidades das transformações a sociedade moderna é definida também pelo seu caráter altamente reflexivo. Suas mudanças atuam na sociedade de forma a alterar as estrutura das antigas instituições ou simplesmente criando instituições absolutamente novas se comparadas as tradicionais.
Um dos pontos centrais sobre os quais se desenvolve o argumento do autor é a descontinuidades, com constantes fragmentações e rupturas de forma que não há mais um centro único de poder, mas vários, uma pluralidade deles. O pensamento até então prevalecente entre os sociólogos de que a sociedade é um todo organizado e unificado, obedecendo a uma escala linear e evolutiva é negativado.
Assim, as sociedades tardias são caracterizadas pela diferença. Diferenças de posições, visões, antagonismos e consequentemente diferentes identidades. Essas sociedades não se desintegram totalmente e sim se articulam, contudo, sua estrutura permanece aberta. Para Laclau esse deslocamento de identidades tem aspectos positivos, pois desarticula as estáveis do passado, abrindo, contudo possibilidades para novas articulações que resultaram na construção de novas identidades.
O capítulo II evidencia as concepções de alguns teóricos contemporâneos sobre a forma pela qual o sujeito e a identidade são compreendidos no contexto moderno. No decorrer do texto o autor nos mostra que a conceptualização do sujeito moderno mudou em três pontos fundamentais no período da modernidade. Esta premissa assinala que o homem moderno é uma construção histórica que nasce em determinado momento histórico, podendo este modificar-se e até mesmo morrer.
Um argumento trazido pelo autor é que o lugar-comum é a afirmação de que a modernidade fez surgir uma nova forma de individualismo e também uma nova forma de sujeito individual em relação a sua identidade. Não significando, entretanto, que no passado a individualidade não existia, mas sim, que estas eram vividas e conceitualizadas de forma diferente. As antigas estruturas foram abaladas de forma que o sujeito humano tinha sua estrutura divinamente estabelecida. Com este argumento o autor visa enfatizar que na modernidade a individualidade tem sido vivida de forma bastante diferente do pré-moderno. O sujeito visto até então em sua estrutura estável, como criatura divina muda seu status a partir do Iluminismo e do período Renascentistas para um ser soberano o que pode ter sido de acordo com Hall o motor gerador do sistema social da modernidade. O indivíduo soberano teve seu nascimento entre o iluminismo, o renascimento e o humanismo provocando uma grande ruptura com o mundo antigo.
Hall traz Raymond Williams e sua concepção de que por um lado o indivíduo é indivisível, com sua identidade unificada não podendo ser dividido, e ainda sim ele é singular e único. Vários fatores corroboraram para essa ascensão do indivíduo soberano. Entre eles o autor destaca: o Protestantismo e a reforma no qual o homem poderia chegar-se a Deus sem a mediação direta da Igreja; o Humanismo que colocou o homem no centro do universo; a Revolução Científica que deu ao homem a capacidade de agir e construir conhecimentos de natureza científica e o iluminismo que consolidou o homem científico e racional.
René Descartes teve grande importância nesse movimento de descentramento de Deus como o centro do universo para o homem, sujeito dotado de capacidades e potencialidades. Descartes postulou a divisão entre a matéria e a mente. Introduzindo também o pensamento segundo o qual as coisas devem ser reduzidas a seus elementos mínimos a fim de serem explicadas. Sua famosa fase “Penso, logo existo” é uma das marcas dessa concepção de sujeito pensante, centro do conhecimento, ou seja, o sujeito cartesiano.
John Locke também contribui nesse processo ao definir o indivíduo em termo de sua “mesmidade”, dito de outra forma, um indivíduo cuja identidade permanecia a mesma. O sujeito era assim soberano da razão e do conhecimento e da prática e aquele que sofria as consequências dessas práticas.
Nas sociedades modernas o centro era o indivíduo, o sujeito da razão. Com a complexificação dessas sociedades elas passaram a adquirir uma forma mais coletiva e social. As leis, os estatutos, passaram a atuar do plano dos direitos individuais para perspectivas mais “sociais” tendo em vista também o atendimento aos interesses do Estado Nação e das grandes massas.
Dois eventos foram importantes para a configuração do sujeito moderno: a biologia Darwiniana e o surgimento das novas ciências sociais.
O pensamento cartesiano atingiu de alguma forma as ciências sociais e esta se dividiu entre a psicologia e as outras disciplinas.
A sociologia de alguma forma também incorporou o dualismo de Descartes ao colocar o individuo e a sociedade como entidades separadas.
No século XX começa a emergir a figura do indivíduo isolado, alienado, sozinho mesmo em meio a uma multidão.
A arte, a literatura bem como outros movimentos neste sentido parecia predizer a existência do indivíduo pós-moderno.
De maneira que, na modernidade tardia ocorreu não só a degradação do sujeito e sim seu deslocamento. Hall aborda cinco argumentos elaborados na modernidade tardia que validam sua posição em relação ao deslocamento do sujeito moderno.
O primeiro se refere ao pensamento de Marx sob releitura de outros estudiosos que interpretaram sua obra afirmando que os homens não podem fazer sua própria história sendo reféns dos determinantes históricos que os condicionam. Althusser inclusive, afirma que Marx colocou no centro de sua teoria as relações sociais e não uma noção abstrata do que é o homem. Deslocando duas preposições da filosofia nas quais existe uma essência do ser homem e de que essa essência é própria de cada sujeito particular.
O segundo descentramento veio com base nas ideias de Freud de que nossos desejos se formam a partir de processos psíquicos e que estes possuem uma lógica que difere da razão. Desvalidando assim o entendimento do sujeito racional portador de uma identidade fixa e única. Para Lacan o Eu é algo que a criança aprende, que não é inato e sim construído na relação com o Outro, especialmente na relação entre as figuras maternas e paternas. Na relação do olhar do Eu em relação ao Outro é que a criança internaliza aquilo que lhe é exterior: os símbolos, a cultura. Vivenciando os conflitos internos entre seu objeto de desejo e rejeição. De forma que a identidade é construída por processo do inconsciente e é algo que faz parte da essência humana. Assim, a identidade forma-se muito mais pelo que está faltando em nós e é preenchido pelo exterior do que pelo que já está dentro de nós como indivíduo.
A terceira assenta-se no trabalho do linguista Saussure, o qual afirma que nós não somos autores do que falamos e dos significados que expressamos através da fala. Falar uma língua não é somente expressar nossos pensamentos interiores mas também ativar todo um acervo de significados inseridos em nossos sistemas culturais. Assim, não temos controle algum sobre os significados que produzimos.
A quarta baseia-se no olhar de Michael Foucault e na sua concepção de poder disciplinar que se preocupa em regular, vigiar a espécie humanas, a população, também o indivíduo e o corpo. O local de controle é definido por instituições que visam o controle social, tais como: prisões, hospitais, escolas, quartéis entre outros. Seu objetivo é produzir um corpo dócil de maneira que as vidas, as atividades, o trabalho, as felicidades e infelicidades do indivíduo seus prazeres sexuais, estejam sob controle dos especialistas, dos regimes administrativos e pelas próprias ciências sociais.
O quinto descentralizamento foi o impacto do feminismo. O feminismo surgiu em paralelo a outros movimentos libertário. Esse e outros movimentos se opunham politicamente tanto ao capitalismo ocidental quanto a política estalinista do Oriente. Tinham uma forma cultural forte. O feminismo questionou a distinção entre público e privado, trouxe para a política assuntos como família, a sexualidade, o trabalho doméstico e etc.
Para Hall a nação não é apenas uma entidade política, mas sim um sistema de representação cultural. Sendo uma comunidade simbólica, possuindo o poder para gerar um sentimento de lealdade e identidade.
As pessoas participam da ideia de nação como é transmitido pela cultura nacional. A identificação que ocorria antes entre as comunidades tradicionais distribuídas em tribos, nações, regiões, foram deslocadas para uma cultura nacional.
A cultura nacional unifica a língua, colocando-a como a única a ser falada, na qual os cidadãos devem ser alfabetizados em um sistema educacional nacional. Os símbolos e representação também compõem as culturas nacionais. A cultura nacional é também um discurso, um modo de construir sentidos. Estes sentidos constroem identidades com as quais podemos nos identificar. Geralmente ao nos referirmos as nossas identidades culturais dizemos ser italianos, brasileiros, como se essas identidades fossem essencialmente nossa, quando na verdade elas não o são.
Hall seleciona três aspectos que considera importante a cerca da identidade nacional. A primeira ele chama de narrativa da nação, que envolve a literatura, a história da nação, a forma como esta é contada e recontada e como é expressa na mídia e na cultura popular. Estas narrativas são cercadas de imagens, sons, histórias, símbolos, triunfos que dão sentido ao ser nação. Estas narrativas se conectam com as nossas representações cotidianas. Em segundo lugar é a ênfase nas continuidades, na tradição e na temporalidade. Os elementos da nacionalidade permanecem intocáveis mesmo sob constante tramite da história. A terceira é a invenção da tradição que se dizem antiga, mas na verdade são recentes ou inventadas. As práticas inventadas se constituem enquanto uma série de valores e práticas inculcadas na cultura.
Para Hall a palavra nação refere-se tanto ao recente Estado Nação quanto a uma comunidade local, um domicílio. A partir dessa visão de nação é que algumas culturas subjugam as outras e tentam estabelecer uma hegemonia cultural. As culturas nacionais são atravessadas por diferenças, sendo unificadas apenas pelo exercício de diferentes formas de poder cultural. Contudo, as identidades nacionais continuam a ser supostamente unificadas.
O autor destaca o termo etnia usado para nos referirmos aos aspectos culturais, línguas, costume, religião, sentimentos que são partilhados por todos, entre outros. A cultura Europeia Ocidental não tem nenhuma só nação composta exclusivamente por uma etnia. Quanto ao termo raça, o autor nos afirma que a identidade nacional também não pode ser unificada sob este termo, pois este não possui validade científica.
Como um fator fundamental que esta deslocando as identidades culturais nacionais o ator cita o processo de globalização. A globalização conceituada pelo autor se refere a processos que atuam em escala global, que atravessa fronteiras nacionais e interliga comunidade, tornando o mundo mais interconectado e modificando a nossa relação espaço temporal.
Um dos aspectos da globalização que tem impactado as identidades nacionais é a sua modificação na compreensão do tempo e espaço. Tornando o mundo menor de maneira que determinadas ações ocorridas em um lugar tem um impacto em outros locais, mesmo os mais distantes. O tempo e espaço são para Hall as coordenadas básicas de todo um sistema de representação, a escrita, a arte, o desenho entre outros.
Neste contexto, o lugar é descrito na visão do autor como algo concreto e se relaciona com a nossa identidade e a ela se liga. No período pré-moderno o espaço e o lugar eram coincidentes, pois as atividades da vida social dependiam da presença física das pessoas. Já na modernidade ocorre a cisão espaço e tempo, de maneira que é possível comunicar-se com o ausente fisicamente.
Em decorrência desse processo argumenta-se que está se enfraquecendo as formas nacionais de identidade cultural, provocando um afrouxamento da identidade nacional. As identidades nacionais se mantêm em relação à perpetuação dos direitos, leis, cidadanias, contudo, as comunidades locais têm se fortalecido e emergidos identificações globais.
A globalização provoca então fluxos culturais, e como consumidores de culturas as pessoas passam a partilhar identidades. O constante contato com outras culturas torna impossível manter as identidades culturais intactas e o não enfraquecimento das identidades nacionais.
Stuart Hall discute ainda a questão da homogeneização cultural. Para o autor, além da tendência a homogeneização cultural há outra que aponta para a diferença. Enfatizando que na globalização ocorre um interesse pelo local. Assim, ao invés de uma anulação do local ocorre um processo de interação entre o global e o local. A globalização não vai destruir o local e o global, mas sim, construir novas formas de identificações locais e globais.
A globalização não é distribuída de forma igualitária entre os países e as regiões, o que levanta o questionamento se de fato há uma interconexão entre todos, ou uma globalização advinda do Ocidente. O cenário da globalização com suas imagens, artefatos e identidades que dominam as redes globais são as Ocidentais incluindo também o Japão.
Diante desse contexto de globalização e identidades culturais emerge o conceito de dois movimentos contraditórios: tradição e tradução. Tradução “descreve as formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal” (HALL,1998, p. 88). São pessoas possuidoras de vínculos profundos com seu passado, mas que a ele não podem retornar. Sua cultura é obrigada a dialogar com a outras, sem, contudo que isto implique em perda de identidade.
Por fim, Hall traz a baila a existência de dois posicionamentos em relação ao fundamentalismo e ao sincretismo, o primeiro diz respeito a fusão de diferentes matrizes culturais. Algumas pessoas acreditam que esses processos são produtores de novas formas de cultura, já outras creem que o hibridismo envolve um relativismo e apresenta custos e perigos. E o segundo é com relação ao fundamentalismo, onde se discute a tentativa de se construir identidades puras baseadas na imersão na tradição.
Por fim, Hall sustenta o argumento de que vivemos em um contexto de hibridismo, conceituado a partir do autor, como fusão entre as distintas tradições culturais, e com sua poderosa fonte criativa produz novas formas de cultura, que são consideradas mais apropriadas à modernidade tardia.
Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo.
O propósito deste livro é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma "crise de identidade", em que consiste essa crise e em que direção ela está indo. O livro se volta para questões como: Que pretendemos dizer com "crise de identidade"? Que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitam essa crise? Que formas ela toma? Quais são suas conseqüências potenciais? A primeira parte do livro ('caps. 1-2') lida com mudanças nos conceitos de identidade e de sujeito. A segunda parte ('caps. 3-6') desenvolve esse argumento com relação a 'identidades culturais' - aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso "pertencimento" a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais.
Este livro é escrito a partir de uma posição basicamente simpática à afirmação de que as identidades modernas estão sendo "descentradas", isto é, deslocadas ou fragmentadas. Seu propósito é o de explorar esta afirmação, ver o que ela implica, qualificá-la e discutir quais podem ser suas prováveis conseqüências. Ao desenvolver o argumento, introduz certas complexidades e examina alguns aspectos contraditórios que a noção de "descentração", em sua forma mais simplificada, desconsidera.
Conseqüentemente, as formulações deste livro são provisórias e abertas à contestação. A opinião dentro da comunidade sociológica está ainda profundamente dividida quanto a esses assuntos. As tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. O próprio conceito com o qual estamos lidando, "identidade", é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. Como ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas.
Deve-se ter isso em mente ao se ler o restante do livro.
Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados.
Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo. Como observa o crítico cultural Kobena Mercer, "a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza" (Mercer, 1990, p.43).
Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam um processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada. Este livro acrescenta uma nova dimensão a esse argumento: a afirmação de que naquilo que é descrito, algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, nós somos também "pós" relativamente a qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade - algo que, desde o Iluminismo, se supõe definir o próprio núcleo ou essência de nosso ser e fundamentar nossa existência como sujeitos humanos.
A fim de explorar essa afirmação, deve-se examinar primeiramente as definições de identidade e o caráter da mudança na modernidade tardia.
Mais detalhes sobre a leitura e os por menores de cada capítulo é só acessar o site :
Fonte : http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall1.html
O autor discorre de forma clara e objetiva sobre os efeitos da globalização é pós -modernidade sobre o indivíduo, e sua inconsciente sujeição e ou influência . Eu diria subversão...
Na modernidade tardia a mudança assume um caráter ainda mais específico conhecido como globalização que produz impacto na identidade cultural dos sujeitos, além disso, a mudança nesse contexto é ainda mais rápida e permanente. Distinguindo-se assim, das sociedades consideradas tradicionais nas quais os símbolos do passado são venerados e perpetuados. Para além das velocidades das transformações a sociedade moderna é definida também pelo seu caráter altamente reflexivo. Suas mudanças atuam na sociedade de forma a alterar as estrutura das antigas instituições ou simplesmente criando instituições absolutamente novas se comparadas as tradicionais.
Um dos pontos centrais sobre os quais se desenvolve o argumento do autor é a descontinuidades, com constantes fragmentações e rupturas de forma que não há mais um centro único de poder, mas vários, uma pluralidade deles. O pensamento até então prevalecente entre os sociólogos de que a sociedade é um todo organizado e unificado, obedecendo a uma escala linear e evolutiva é negativado.
Assim, as sociedades tardias são caracterizadas pela diferença. Diferenças de posições, visões, antagonismos e consequentemente diferentes identidades. Essas sociedades não se desintegram totalmente e sim se articulam, contudo, sua estrutura permanece aberta. Para Laclau esse deslocamento de identidades tem aspectos positivos, pois desarticula as estáveis do passado, abrindo, contudo possibilidades para novas articulações que resultaram na construção de novas identidades.
O capítulo II evidencia as concepções de alguns teóricos contemporâneos sobre a forma pela qual o sujeito e a identidade são compreendidos no contexto moderno. No decorrer do texto o autor nos mostra que a conceptualização do sujeito moderno mudou em três pontos fundamentais no período da modernidade. Esta premissa assinala que o homem moderno é uma construção histórica que nasce em determinado momento histórico, podendo este modificar-se e até mesmo morrer.
Um argumento trazido pelo autor é que o lugar-comum é a afirmação de que a modernidade fez surgir uma nova forma de individualismo e também uma nova forma de sujeito individual em relação a sua identidade. Não significando, entretanto, que no passado a individualidade não existia, mas sim, que estas eram vividas e conceitualizadas de forma diferente. As antigas estruturas foram abaladas de forma que o sujeito humano tinha sua estrutura divinamente estabelecida. Com este argumento o autor visa enfatizar que na modernidade a individualidade tem sido vivida de forma bastante diferente do pré-moderno. O sujeito visto até então em sua estrutura estável, como criatura divina muda seu status a partir do Iluminismo e do período Renascentistas para um ser soberano o que pode ter sido de acordo com Hall o motor gerador do sistema social da modernidade. O indivíduo soberano teve seu nascimento entre o iluminismo, o renascimento e o humanismo provocando uma grande ruptura com o mundo antigo.
Hall traz Raymond Williams e sua concepção de que por um lado o indivíduo é indivisível, com sua identidade unificada não podendo ser dividido, e ainda sim ele é singular e único. Vários fatores corroboraram para essa ascensão do indivíduo soberano. Entre eles o autor destaca: o Protestantismo e a reforma no qual o homem poderia chegar-se a Deus sem a mediação direta da Igreja; o Humanismo que colocou o homem no centro do universo; a Revolução Científica que deu ao homem a capacidade de agir e construir conhecimentos de natureza científica e o iluminismo que consolidou o homem científico e racional.
René Descartes teve grande importância nesse movimento de descentramento de Deus como o centro do universo para o homem, sujeito dotado de capacidades e potencialidades. Descartes postulou a divisão entre a matéria e a mente. Introduzindo também o pensamento segundo o qual as coisas devem ser reduzidas a seus elementos mínimos a fim de serem explicadas. Sua famosa fase “Penso, logo existo” é uma das marcas dessa concepção de sujeito pensante, centro do conhecimento, ou seja, o sujeito cartesiano.
John Locke também contribui nesse processo ao definir o indivíduo em termo de sua “mesmidade”, dito de outra forma, um indivíduo cuja identidade permanecia a mesma. O sujeito era assim soberano da razão e do conhecimento e da prática e aquele que sofria as consequências dessas práticas.
Nas sociedades modernas o centro era o indivíduo, o sujeito da razão. Com a complexificação dessas sociedades elas passaram a adquirir uma forma mais coletiva e social. As leis, os estatutos, passaram a atuar do plano dos direitos individuais para perspectivas mais “sociais” tendo em vista também o atendimento aos interesses do Estado Nação e das grandes massas.
Dois eventos foram importantes para a configuração do sujeito moderno: a biologia Darwiniana e o surgimento das novas ciências sociais.
O pensamento cartesiano atingiu de alguma forma as ciências sociais e esta se dividiu entre a psicologia e as outras disciplinas.
A sociologia de alguma forma também incorporou o dualismo de Descartes ao colocar o individuo e a sociedade como entidades separadas.
No século XX começa a emergir a figura do indivíduo isolado, alienado, sozinho mesmo em meio a uma multidão.
A arte, a literatura bem como outros movimentos neste sentido parecia predizer a existência do indivíduo pós-moderno.
De maneira que, na modernidade tardia ocorreu não só a degradação do sujeito e sim seu deslocamento. Hall aborda cinco argumentos elaborados na modernidade tardia que validam sua posição em relação ao deslocamento do sujeito moderno.
O primeiro se refere ao pensamento de Marx sob releitura de outros estudiosos que interpretaram sua obra afirmando que os homens não podem fazer sua própria história sendo reféns dos determinantes históricos que os condicionam. Althusser inclusive, afirma que Marx colocou no centro de sua teoria as relações sociais e não uma noção abstrata do que é o homem. Deslocando duas preposições da filosofia nas quais existe uma essência do ser homem e de que essa essência é própria de cada sujeito particular.
O segundo descentramento veio com base nas ideias de Freud de que nossos desejos se formam a partir de processos psíquicos e que estes possuem uma lógica que difere da razão. Desvalidando assim o entendimento do sujeito racional portador de uma identidade fixa e única. Para Lacan o Eu é algo que a criança aprende, que não é inato e sim construído na relação com o Outro, especialmente na relação entre as figuras maternas e paternas. Na relação do olhar do Eu em relação ao Outro é que a criança internaliza aquilo que lhe é exterior: os símbolos, a cultura. Vivenciando os conflitos internos entre seu objeto de desejo e rejeição. De forma que a identidade é construída por processo do inconsciente e é algo que faz parte da essência humana. Assim, a identidade forma-se muito mais pelo que está faltando em nós e é preenchido pelo exterior do que pelo que já está dentro de nós como indivíduo.
A terceira assenta-se no trabalho do linguista Saussure, o qual afirma que nós não somos autores do que falamos e dos significados que expressamos através da fala. Falar uma língua não é somente expressar nossos pensamentos interiores mas também ativar todo um acervo de significados inseridos em nossos sistemas culturais. Assim, não temos controle algum sobre os significados que produzimos.
A quarta baseia-se no olhar de Michael Foucault e na sua concepção de poder disciplinar que se preocupa em regular, vigiar a espécie humanas, a população, também o indivíduo e o corpo. O local de controle é definido por instituições que visam o controle social, tais como: prisões, hospitais, escolas, quartéis entre outros. Seu objetivo é produzir um corpo dócil de maneira que as vidas, as atividades, o trabalho, as felicidades e infelicidades do indivíduo seus prazeres sexuais, estejam sob controle dos especialistas, dos regimes administrativos e pelas próprias ciências sociais.
O quinto descentralizamento foi o impacto do feminismo. O feminismo surgiu em paralelo a outros movimentos libertário. Esse e outros movimentos se opunham politicamente tanto ao capitalismo ocidental quanto a política estalinista do Oriente. Tinham uma forma cultural forte. O feminismo questionou a distinção entre público e privado, trouxe para a política assuntos como família, a sexualidade, o trabalho doméstico e etc.
Para Hall a nação não é apenas uma entidade política, mas sim um sistema de representação cultural. Sendo uma comunidade simbólica, possuindo o poder para gerar um sentimento de lealdade e identidade.
As pessoas participam da ideia de nação como é transmitido pela cultura nacional. A identificação que ocorria antes entre as comunidades tradicionais distribuídas em tribos, nações, regiões, foram deslocadas para uma cultura nacional.
A cultura nacional unifica a língua, colocando-a como a única a ser falada, na qual os cidadãos devem ser alfabetizados em um sistema educacional nacional. Os símbolos e representação também compõem as culturas nacionais. A cultura nacional é também um discurso, um modo de construir sentidos. Estes sentidos constroem identidades com as quais podemos nos identificar. Geralmente ao nos referirmos as nossas identidades culturais dizemos ser italianos, brasileiros, como se essas identidades fossem essencialmente nossa, quando na verdade elas não o são.
Hall seleciona três aspectos que considera importante a cerca da identidade nacional. A primeira ele chama de narrativa da nação, que envolve a literatura, a história da nação, a forma como esta é contada e recontada e como é expressa na mídia e na cultura popular. Estas narrativas são cercadas de imagens, sons, histórias, símbolos, triunfos que dão sentido ao ser nação. Estas narrativas se conectam com as nossas representações cotidianas. Em segundo lugar é a ênfase nas continuidades, na tradição e na temporalidade. Os elementos da nacionalidade permanecem intocáveis mesmo sob constante tramite da história. A terceira é a invenção da tradição que se dizem antiga, mas na verdade são recentes ou inventadas. As práticas inventadas se constituem enquanto uma série de valores e práticas inculcadas na cultura.
Para Hall a palavra nação refere-se tanto ao recente Estado Nação quanto a uma comunidade local, um domicílio. A partir dessa visão de nação é que algumas culturas subjugam as outras e tentam estabelecer uma hegemonia cultural. As culturas nacionais são atravessadas por diferenças, sendo unificadas apenas pelo exercício de diferentes formas de poder cultural. Contudo, as identidades nacionais continuam a ser supostamente unificadas.
O autor destaca o termo etnia usado para nos referirmos aos aspectos culturais, línguas, costume, religião, sentimentos que são partilhados por todos, entre outros. A cultura Europeia Ocidental não tem nenhuma só nação composta exclusivamente por uma etnia. Quanto ao termo raça, o autor nos afirma que a identidade nacional também não pode ser unificada sob este termo, pois este não possui validade científica.
Como um fator fundamental que esta deslocando as identidades culturais nacionais o ator cita o processo de globalização. A globalização conceituada pelo autor se refere a processos que atuam em escala global, que atravessa fronteiras nacionais e interliga comunidade, tornando o mundo mais interconectado e modificando a nossa relação espaço temporal.
Um dos aspectos da globalização que tem impactado as identidades nacionais é a sua modificação na compreensão do tempo e espaço. Tornando o mundo menor de maneira que determinadas ações ocorridas em um lugar tem um impacto em outros locais, mesmo os mais distantes. O tempo e espaço são para Hall as coordenadas básicas de todo um sistema de representação, a escrita, a arte, o desenho entre outros.
Neste contexto, o lugar é descrito na visão do autor como algo concreto e se relaciona com a nossa identidade e a ela se liga. No período pré-moderno o espaço e o lugar eram coincidentes, pois as atividades da vida social dependiam da presença física das pessoas. Já na modernidade ocorre a cisão espaço e tempo, de maneira que é possível comunicar-se com o ausente fisicamente.
Em decorrência desse processo argumenta-se que está se enfraquecendo as formas nacionais de identidade cultural, provocando um afrouxamento da identidade nacional. As identidades nacionais se mantêm em relação à perpetuação dos direitos, leis, cidadanias, contudo, as comunidades locais têm se fortalecido e emergidos identificações globais.
A globalização provoca então fluxos culturais, e como consumidores de culturas as pessoas passam a partilhar identidades. O constante contato com outras culturas torna impossível manter as identidades culturais intactas e o não enfraquecimento das identidades nacionais.
Stuart Hall discute ainda a questão da homogeneização cultural. Para o autor, além da tendência a homogeneização cultural há outra que aponta para a diferença. Enfatizando que na globalização ocorre um interesse pelo local. Assim, ao invés de uma anulação do local ocorre um processo de interação entre o global e o local. A globalização não vai destruir o local e o global, mas sim, construir novas formas de identificações locais e globais.
A globalização não é distribuída de forma igualitária entre os países e as regiões, o que levanta o questionamento se de fato há uma interconexão entre todos, ou uma globalização advinda do Ocidente. O cenário da globalização com suas imagens, artefatos e identidades que dominam as redes globais são as Ocidentais incluindo também o Japão.
Diante desse contexto de globalização e identidades culturais emerge o conceito de dois movimentos contraditórios: tradição e tradução. Tradução “descreve as formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal” (HALL,1998, p. 88). São pessoas possuidoras de vínculos profundos com seu passado, mas que a ele não podem retornar. Sua cultura é obrigada a dialogar com a outras, sem, contudo que isto implique em perda de identidade.
Por fim, Hall traz a baila a existência de dois posicionamentos em relação ao fundamentalismo e ao sincretismo, o primeiro diz respeito a fusão de diferentes matrizes culturais. Algumas pessoas acreditam que esses processos são produtores de novas formas de cultura, já outras creem que o hibridismo envolve um relativismo e apresenta custos e perigos. E o segundo é com relação ao fundamentalismo, onde se discute a tentativa de se construir identidades puras baseadas na imersão na tradição.
Por fim, Hall sustenta o argumento de que vivemos em um contexto de hibridismo, conceituado a partir do autor, como fusão entre as distintas tradições culturais, e com sua poderosa fonte criativa produz novas formas de cultura, que são consideradas mais apropriadas à modernidade tardia.
Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo.
A Identidade em Questão
A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.O propósito deste livro é explorar algumas das questões sobre a identidade cultural na modernidade tardia e avaliar se existe uma "crise de identidade", em que consiste essa crise e em que direção ela está indo. O livro se volta para questões como: Que pretendemos dizer com "crise de identidade"? Que acontecimentos recentes nas sociedades modernas precipitam essa crise? Que formas ela toma? Quais são suas conseqüências potenciais? A primeira parte do livro ('caps. 1-2') lida com mudanças nos conceitos de identidade e de sujeito. A segunda parte ('caps. 3-6') desenvolve esse argumento com relação a 'identidades culturais' - aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de nosso "pertencimento" a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais.
Conseqüentemente, as formulações deste livro são provisórias e abertas à contestação. A opinião dentro da comunidade sociológica está ainda profundamente dividida quanto a esses assuntos. As tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. O próprio conceito com o qual estamos lidando, "identidade", é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. Como ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas que estão sendo apresentadas.
Deve-se ter isso em mente ao se ler o restante do livro.
Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados.
Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo. Como observa o crítico cultural Kobena Mercer, "a identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza" (Mercer, 1990, p.43).
Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam um processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada. Este livro acrescenta uma nova dimensão a esse argumento: a afirmação de que naquilo que é descrito, algumas vezes, como nosso mundo pós-moderno, nós somos também "pós" relativamente a qualquer concepção essencialista ou fixa de identidade - algo que, desde o Iluminismo, se supõe definir o próprio núcleo ou essência de nosso ser e fundamentar nossa existência como sujeitos humanos.
A fim de explorar essa afirmação, deve-se examinar primeiramente as definições de identidade e o caráter da mudança na modernidade tardia.
Mais detalhes sobre a leitura e os por menores de cada capítulo é só acessar o site :
Fonte : http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/hall1.html
O autor discorre de forma clara e objetiva sobre os efeitos da globalização é pós -modernidade sobre o indivíduo, e sua inconsciente sujeição e ou influência . Eu diria subversão...